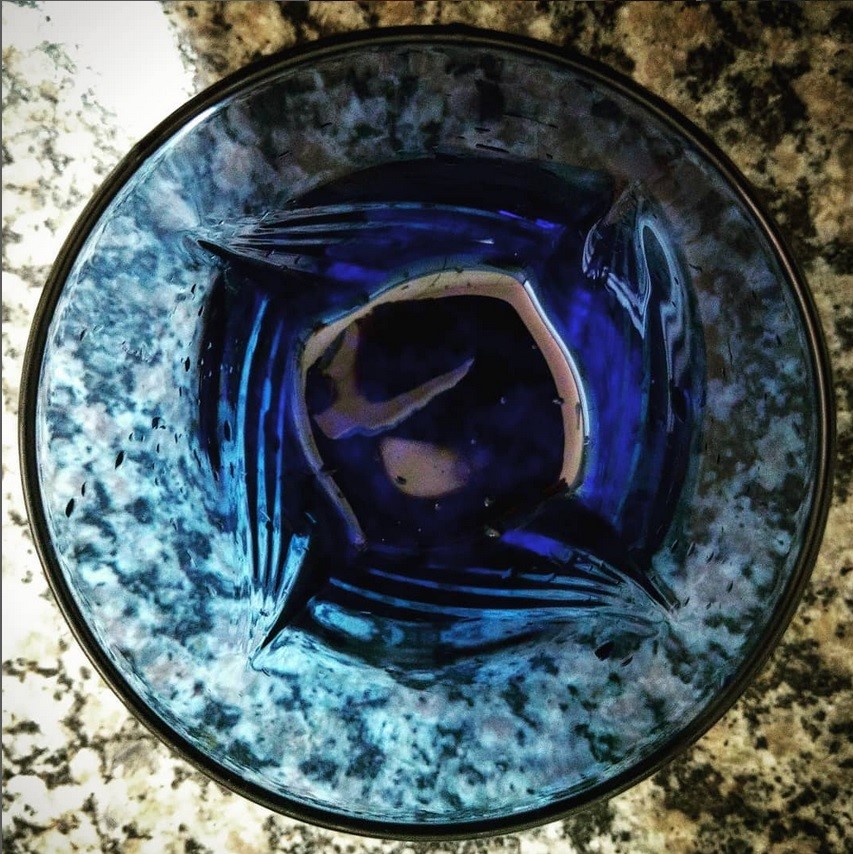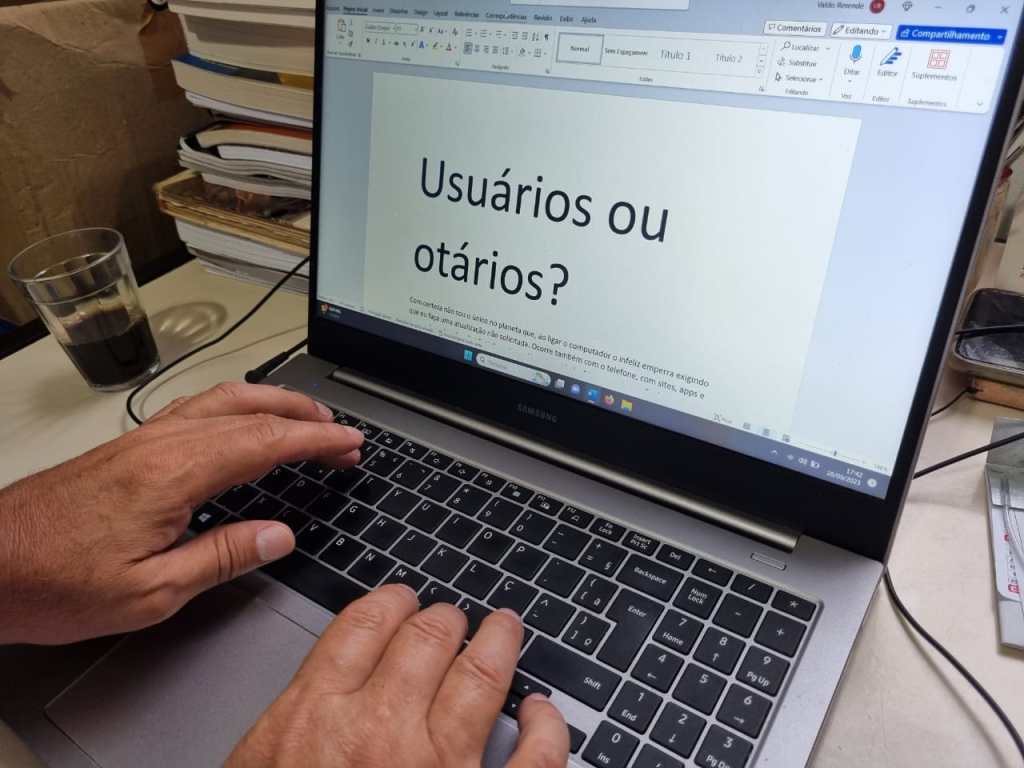Considero uma boa sorte ter ido para a escola aos sete anos. Os anos antecedentes me permitiram acordar com a casa em atividade, na cama chegando os sons e cheiros da cozinha, entremeados pelas vozes e canções vindas do rádio. Então caçula, dividia as manhãs com meus pais, os irmãos todos já estudando.
Mamãe tinha modo peculiar de me acordar, regulando o horário pelas novelas do rádio: “Cidinho! A novela das 10h já vai começar!” Acordar cedo, bem cedinho, só quando havia brinquedo novo, invariavelmente feito pelas mãos de meu pai. Papai, com espírito de professor Pardal, criava brinquedos. Guardo com precisão o olhar brilhante dele, satisfeito, vendo-me brincar com cada novidade.
Final da manhã voltavam da escola meu irmão mais velho mais as minhas três irmãs. A casa cheia, barulhenta, viva de atividades corriqueiras só quebradas no tempo de férias. Terminadas essas, começavam os preparativos para a escola. Uniformes, bolsas e mochilas, cadernos e livros. Um universo que precisei esperar para participar, o que veio a ocorrer só aos sete anos. Não tinha ideia do que eram férias, pois a vida era feita de tempo livre, visitas aos parentes, aos meus avós e viagens ocasionais. Única diferença era, nas férias, todos fazerem tudo juntos.
A rotina restaurada com o início do ano, em dia determinado e munida de listas enormes mamãe ia às compras. Voltava com um tesouro enorme, feito de canetas azuis e vermelhas, caixas de lápis de cor, compassos, esquadros, apontadores, cadernos de desenho e livros, muitos livros. Nada para o caçula que, com olhar invejoso, queria um caderno pra rabiscar, lápis coloridos para brincar. Ato contínuo, era de mamãe a tarefa de encapar os cadernos. Alguns com papel pardo, identificados em seguida pela letra de minha mãe, bonita e caprichada. Outros eram recobertos com plástico azul, transparente, bonitos de aumentar a inveja do caçula.
A escola era local cheio de histórias e aventuras. Surgiram nomes de professoras, primeiros amigos e desafetos dos irmãos. E os nomes das escolas iniciais: Guerra Junqueiro, Juscelino Kubitschek. Hoje me pergunto a razão para nomear uma escola no interior mineiro com o nome do poeta português… Vai saber! Juscelino era nome quase familiar. Em casa de mineiro era comum encontrar nas paredes retratos do governador, do presidente, todo pimpão e engalanado.
Desejei muito ir para a escola. Achava meu irmão muito bonito com seu uniforme, e queria uma pasta, de couro, com alça e fechos metálicos. Gostava dos casos trazidos por minhas irmãs e, único medo, receava ter que tomar vacina, já que eram dez agulhadas no braço da criança que voltava cheia de lágrimas para casa. Ansioso, antes da escola rabisquei a primeira palavra no chão do quintal: Bino! E, foi assim que, aguardando com muita vontade, o dia chegou.
Os tempos são outros, as necessidades estão aí; as exigências de um mercado que absorveu pai e mãe também são realidade. Há um bom tempo que as crianças são colocadas, ainda bebês, em creches, pré-escolas. Nas grandes cidades os quintais são espaços de gente abastada. A escola, aquele lugar do sonho das crianças do meu tempo não existe mais. Parece que o prazer de aprender e fazer parte da escola foi substituído pela ânsia em formar, preparar para o mundo, garantir o futuro. Estar apto para concorrer!
Hoje sou capaz de perceber o quanto aprendi antes da pré-escola. Poderia enumerar as atividades domésticas, plenas em aprendizado obtido na vivência, na observação. Por aqui, quero registrar exemplos de quando, ao lado do meu avô descobri o prazer de cultivar horta, cuidar de parreira, descobrir a origem do café comendo a fruta vermelha, porque madura, tirada do pé, muito doce e saborosa. Vi na oficina, papai criando dobradiças para porteiras, construindo portões para quintais e jardins, produzindo ferraduras e colocando-as nos cavalos, pacientes, bem ali no nosso quintal. Via com curiosidade a criação de porcos e galinhas, e recordo festas no trabalho conjunto de meus pais e vizinhos, quando um imenso porco era transformado em banha, linguiças e outros derivados do porquinho.
Mais que aprender por observação sobre as etapas de uma “pamonhada”, ou do trivial arroz com feijão, a faxina da casa, a organização de armários, a maior dádiva de estar em casa foi o convívio com meus pais, minha família. Convivência! Essa necessidade humana de estar e viver preferencialmente em harmonia. Até onde a pré-escola consegue resolver a questão da harmonia em convivência forçada é outra história. Creio que o maior desafio seja tornar a escola um lugar de desejo, esse mesmo desejo que nos leva a amar e valorizar as etapas e conquistas das nossas vidas.
Bom início de aulas para alunos e professores!