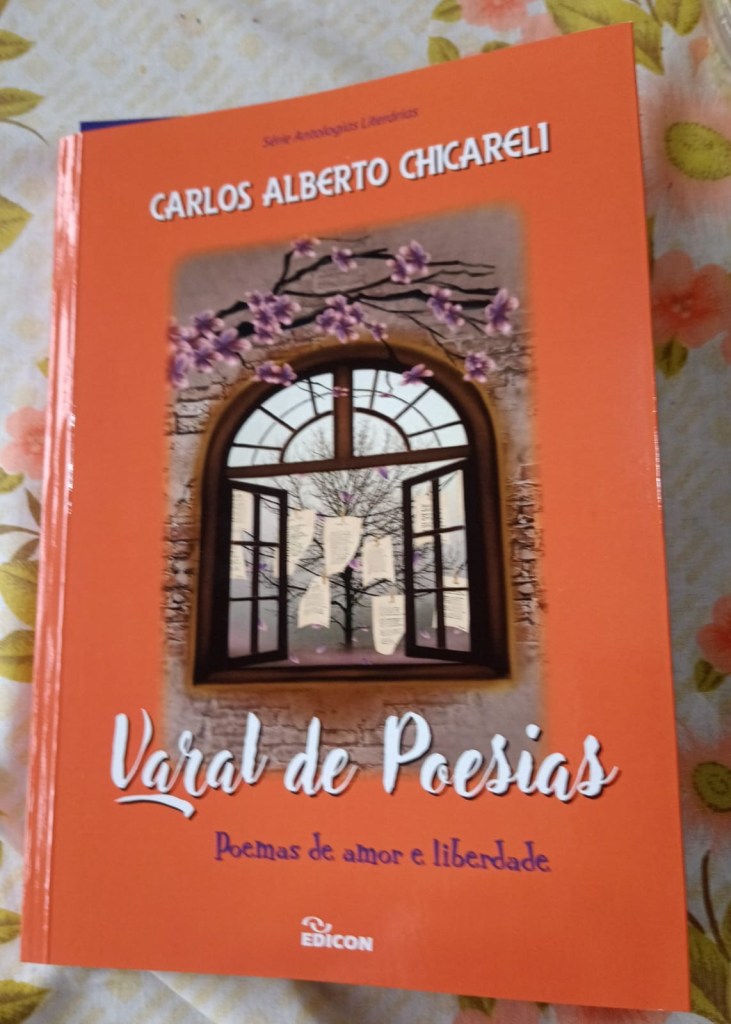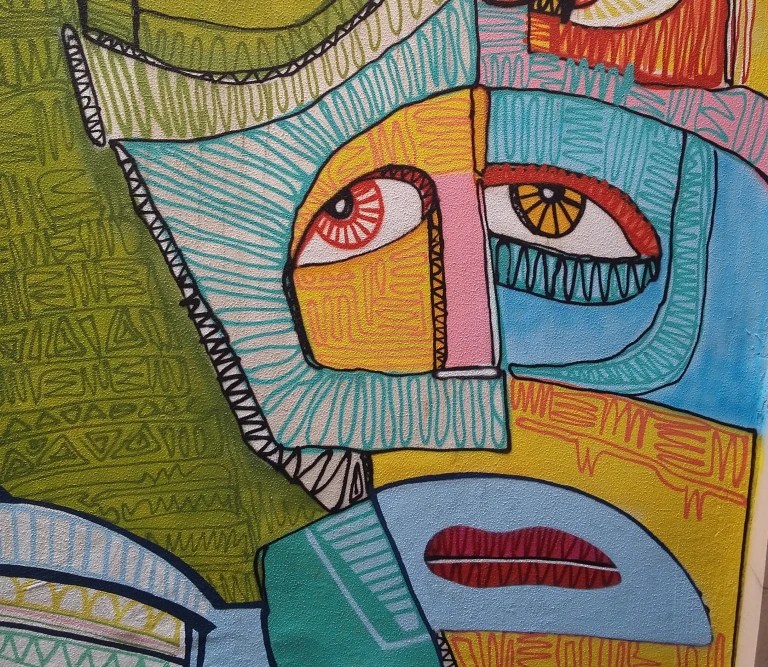Houve um tempo em que a ilha de São Vicente quase não tinha gente. Nem a serra era recortada por vias de ferro, por trilhas, por estradas de rodagem. Os primeiros habitantes daqui caçavam peixe, ou animais maiores para se defenderem da fome. Dos pássaros, de fato com pouca carne, preferiam as penas para cocares e pulseiras. Gaviões e povos originários viviam em relativa harmonia até que, por volta de 1500, os portugueses trouxeram as galinhas. Aí, gaviões incluíram pintinhos em suas dietas. A relação com os humanos azedou.
O bicho gavião não difere muito dos outros. Caça quando tem fome, não estocando absolutamente nada. Defende a si e as crias de predadores, o que os torna temporariamente territorialistas, tomando conta do entorno de seus ninhos quando os filhotes ainda não se viram sozinhos. Seus hábitos são diurnos, quando localizam e caçam suas presas.
Já contei em crônica* meu primeiro contato com a espécie, quando viajava de trem de passageiros da Mogiana. Os garçons colocavam nacos de carne espetados em um longo garfo, estendiam a oferta pela janela e o maquinista diminuía a velocidade. O gavião se aproximava, recebia a comida e tomava seu rumo, o trem seguindo viagem. Era lindo. Era poético. Está entre as melhores lembranças de minha infância.
Meses atrás ao acordar vi, pela janela da área de serviço, um gavião parado sobre o telhado do vizinho. Imponente, impávido e altaneiro, diria o poeta. Equidistantes dele, formando um triângulo, três pombinhas inquietas, nervosas, caminhando a passos curtos de um lado para outro. Eu já sabia por observações anteriores que as pombinhas tinham ninhos na cornija do telhado vizinho, no vão de uma chaminé pouco usada. Com a temperatura quase sempre elevada por aqui, certamente é parte inútil da construção. O gavião não atacava as aves menores. Elas se mantinham naquela situação tensa, nervosa.
Sem uma liderança que as unisse contra o predador, as pombinhas permaneciam ali, esperando que o altivo atacante iniciasse o movimento. Penso eu que ele queria atacar o ninho, devia haver ovos mais deliciosos que pombas cheias de penas e piolhos. Para se abaixar e tomar posse dos ovos ele abriria guarda para um ataque conjunto das andorinhas. Dizem os observadores que os bem-te-vis fazem isso para defenderem seus ninhos.
Sem saber diferenciar pombinhas de bem-te-vis, o gavião permanecia atento, já vítima do meu ódio, com pena dos ovinhos ou filhotes indefesos. A situação não se resolvia, eu não possuo nem mesmo um estilingue para espantar a ave de rapina quando fui distraído pelos sons do celular. Esse mesmo celular que hoje pela manhã trazia a notícia de uma senhora ter sofrido uma bicada de gavião no cocuruto enquanto trafegava por movimentada rua do Embaré, bairro santista.
O jornal, tentando um sensacionalismo barato, insinuava ataque à la filme de terror, um Hitchcock e seus pássaros assassinos tupiniquins. Nos comentários, um vizinho do local informava haver um ninho em árvore alta, próxima de onde a vítima passava quando foi atacada. Logo vieram comentários indagando se a moça era palmeirense, vestida de verde e sendo confundida com papagaio ou se, com vestes em preto e branco pudesse ter sido atacada por ser “peixe”, em referência explícita ao Santos FC. Um a zero para o gavião, escreveram.
Um dos imperadores entre as outras 300 espécies de pássaros que vivem aqui na cidade de Santos, os gaviões são importantes para o equilíbrio ambiental. Antes de chamarmos a cidade de nossa, a ilha já era deles. Somos nós os invasores. É bem verdade que eles poderiam construir seus ninhos lá na serra, mas aí teriam que voar muito para obter comida que, por aqui, é farta. Vivemos de forma a facilitar o aumento da população de ratos, entre outras pragas.
Que os gaviões sigam seu próprio destino que, como o de outro sem número de animais, já foi por demais alterado pela ação humana. Usando a própria força e habilidade em atacar de cima para baixo, que sigam naquela do parente Carcará e continuem no eterno e popular “pega, mata e come” da canção. Nós, humanos, identificando árvores com ninhos, podemos atravessar a rua, ir pelo passeio oposto. É só até os filhotes crescerem! Aos excessivamente assustados com o bichinho sugiro o uso de bonés, chapéus, boinas, perucas e guarda-chuvas, entre outras possibilidades de proteger a cachola. Quanto ao telhado vizinho, anda livre de pombas. Essa batalha o gavião também venceu.
*In “O vai e vem da memória” escrevi “O gavião do trem da Mogiana”, publicado pela Elipse, Artes e Afins.