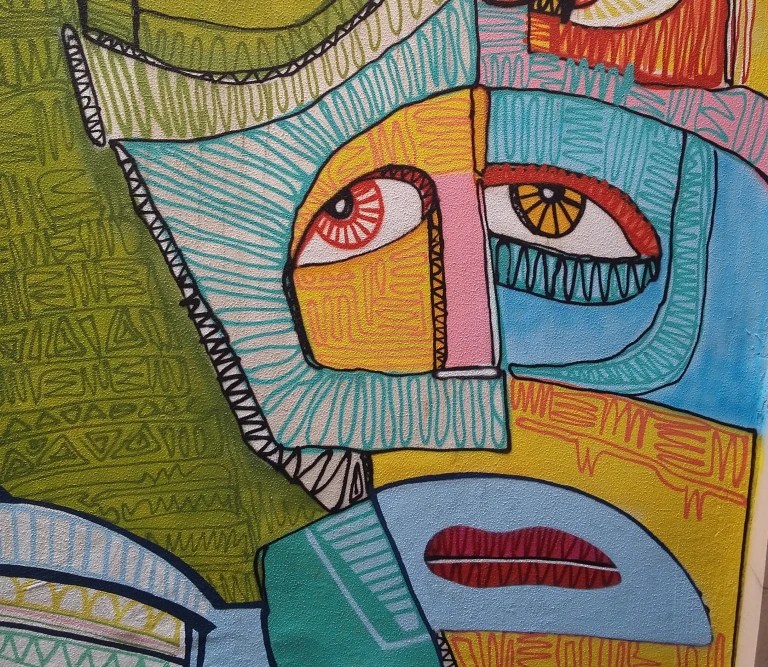No início da madrugada, o carro deslizando com velocidade sobre o asfalto, as construções às margens da estrada tornaram-se o que, ultimamente, as pessoas chamam gatilho. Prefiro escrever que acionaram lembranças, despertaram memórias. Tentei em vão visualizar a escola onde lecionei, assim como a empresa em que trabalhou um grande amigo. Já haviam ficado para trás.
Entramos em um trecho em que, seguramente, eu não passava há oito, dez anos. Os versos da canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil tornados realidade: “Tudo ainda é tal e qual, e no entanto nada é igual”. A capital São Paulo, gigante que nunca dorme, é o cenário de milhões e milhões de histórias. Sou um cisco irrelevante, incapaz de acordar a cidade. Mas ali estão as minhas lembranças, testemunhas do que vivi.
Houve um dia em que, após passar em um concurso, saí de Santo André, no ABC, em direção à Rua Dr. Vila Nova, na Vila Buarque. Uma imensa chuva provocara enchente e o trânsito, parado, me impedia atravessar um trecho da Avenida do Estado. Eu não conhecia a cidade e, preocupado em chegar no horário a tempo de realizar a entrevista de admissão, resolvi contornar a enchente tendo como rumo os edifícios centrais, o norte correto dado pela torre do antigo Banespa, hoje sede e propriedade privada.
Próximos de entrar no elevado sobre o Rio Tamanduateí percebi, que a fábrica da Arno não está ali, onde sempre esteve. Quando será que fechou? Ainda existe tal marca? Também, há séculos não careço comprar eletrodomésticos. Ficou para trás a fábrica, também ficou no passado a gravadora de discos que me encantava por saber que Ângela Maria, Elza Soares e Miltinho gravaram discos ali, em qual prédio mesmo? O da esquina, próxima da igreja horrorosa e caça níquel do outro lado da avenida, tão cheia de luzes quanto uma padaria.
Senti vontade de voltar ao Ipiranga, passar pela Avenida Nazaré e chegar ao antigo Instituto de Artes, onde estudei. Mas já descemos do viaduto sobre o rio e evito olhar para o quartel, prestando atenção na Estação do Metrô Pedro II. Sinto-me a caminho de casa. Entramos no trecho da Radial Leste que ligará com o Elevado João Goulart, o Minhocão. Durante quarenta anos passei por essas avenidas e ruas, praças e parques. Estou a caminho de casa.
Meus companheiros de viagem ignoram meus pensamentos, conversam sobre os benefícios do alho, cru, em pedaços. O chá é bom, mas perde um pouco a potência e retarda o efeito curativo. Chá de alho! O motorista segue atento ao tráfego e ignora a entrada para meu antigo lar. É rápido e já passamos em frente ao Teatro Oficina. Meu destino deixa de ser minha casa para ser meu trabalho. O carro faz parte do trajeto que percorri nos últimos anos antes de me aposentar.
Sob o elevado, em um semáforo fechado da Avenida Amaral Gurgel, percebo ainda os resquícios de noites efervescentes da década de 80. Passava por ali em direção ao CPT de Antunes Filho, andava de um lado para o outro para cobrir eventos das boates da região para a revista em que escrevi, onde vi os primeiros shows de sexo explícito, presenciei uma briga tenebrosa no Bar Quadrado, em frente ao Bar Redondo em madrugada como esta, em que atravessamos a cidade rumo ao lar dos nossos hóspedes.
Nosso destino é a Avenida Barão de Limeira, que conheci em relações de trabalho com a Folha de São Paulo. Chegamos ao destino. Despedidas rápidas, pois é tarde e o domingo já está prestes a receber os primeiros raios de sol. O frio é intenso e eu quero voltar para casa, a de agora, no litoral onde a temperatura mesmo fria é sempre mais amena que na Capital.
Estou cansado. A noite foi intensa e todas as lembranças que vieram à tona misturaram-se a flashs de outras histórias, muitas pessoas, vários lugares. Se acionadas com tempo sei que estão todas dentro de mim. Alguns deslizes e falharão as datas corretas, os nomes completos. Um ou outro detalhe se perdeu, talvez com hipnose seja resgatado, mas se foi perdido que fique por lá. Importa o que emergiu, o que está quente, pleno de vida dentro de mim.
Ah, São Paulo! Só um momento, só pequenas lembranças de um ser comum. Quantas outras em seus milhões de habitantes? Outras tantas em viajantes, já distantes. Volto à Caetano para afirmar que o “errante navegante, quem jamais te esqueceria”. São Paulo não é a minha terra. É a maior parte da minha vida! De tantos outros que, trafegando madrugada adentro por suas ruas e avenidas, se derretem de amor e gratidão, até mesmo pelo emprego perdido por não chegar à tempo por conta de uma enchente.
São Paulo, 09/08/2025. Para meus companheiros de viagem, Patrícia Remondini, André Manzoni e Flávio Monteiro. O título desta crônica refere música d’Os Mutantes (Arnaldo Batista e Rita Lee). Os alhos, ruinzinhos, estavam expostos no supermercado. Não comprei.